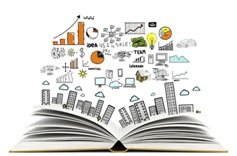O primeiro reinado do Brasil
- Home
- O Primeiro Reinado Do Brasil
O Primeiro Reinado do Brasil foi o período da monarquia brasileira que se iniciou em 1822, após a independência do país. O Primeiro Reinado do Brasil se estendeu até 1831, quando o imperador D. Pedro I abdicou em favor de seu filho, o futuro D. Pedro II. O Primeiro Reinado marcou os anos iniciais do Brasil como país independente – a única monarquia da América Latina, que foi governada por D. Pedro I de forma autoritária.
Guerra da Independência
A 12 de outubro de 1822, D. Pedro foi aclamado Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, sendo coroado a 1º de dezembro.
Proclamada a Independência do Brasil, prevendo o próximo início da luta contra as autoridades provinciais, que continuavam obedecendo ao governo de Lisboa, D. Pedro ordenou a compra de navios no exterior e a contratação de militares que quisessem servir ao nosso império. Imediatamente foram organizados diversos corpos de tropas e preparou-se uma esquadra para levar às províncias os socorros que se fizessem necessários.
Essas medidas eram justificadas pela situação reinante em diversos pontos do território brasileiro. Com efeito, entre outros governos, os da Bahia, Piauí e Cisplatina recusaram-se a acatar a autoridade do Imperador D. Pedro I e de seus ministros.

Dom Pedro I
Guerra da Independência na Bahia
Desde fevereiro de 1822, dominava a Bahia e a respectiva Junta Governativa o brigadeiro Inácio Madeira de Melo, fiel à Coroa portuguesa. No entanto, pronunciou-se contra a Junta Provincial a Câmara de Vila da Cachoeira, que organizou, com apoio de outras populações baianas, uma Junta Conciliatória e de Defesa favorável a D. Pedro, a quem solicitou auxílio.
Imediatamente, o governo do Rio de Janeiro enviou, para auxiliar os patriotas baianos, uma força naval comandada pelo chefe de divisão Rodrigo Antônio De Lamarre, levando, além do brigadeiro Pedro Labatut, francês a serviço do Brasil, mais de duas centenas de soldados, artilharia e munição.
Apenas desembarcando em Maceió, Labatut recebeu os reforços vindos de Pernambuco sob o comando do major José de Barros Falcão de Lacerda. Reunidos todos os patriotas baianos, resolveram cercar por terra a cidade de Salvador, onde Madeira de Melo havia recebido o reforço de mais de mil soldados portugueses e de uma poderosa esquadra comandada por João Félix Pereira de Campos. Dispunham agora as forças reinóis de 8.000 soldados ao passo que as tropas brasileiras não ultrapassavam o total de 5.000 combatentes. Impossibilitadas, por isso de atacá-las diretamente, as forças nacionais iniciaram ampla operação para isolar as tropas de Madeira de Melo de contatos com o interior, dificultando-se assim seu aprovisionamento. Tentando romper o cerco, o oficial português enviou 2.000 homens até Pirajá, onde alcançaram a primeira vitória da guerra.
Enquanto a fome começava a rondar a capital baiana, novos reforços chegavam para ambos os contendores. O batalhão do imperador, liderado pelo coronel José de Lima e Silva, depois Visconde de Majé, que assumira o comando de 2.500 soldados portugueses, engrossou as fileiras de Madeira de Melo.
Em maio de 1823, uma esquadra brasileira dirigida pelo almirante inglês Lord Cochrane apertaria o cerco de Salvador, abatendo o ânimo do inimigo. A 02 de julho, Madeira de Melo, ciente de que não poderia resistir por muito tempo, abandonou a Bahia, embarcando com todas as suas tropas rumo a Portugal.
Guerra da Independência do Piauí
No Piauí, logo que souberam da proclamação da independência, os patriotas da Vila de São João da Paraíba aderiram à causa nacional. Não tardou que, de Oeiras, capital da província, partisse, para combatê-los, o governador português, major João José da Cunha Fidié. Porém, durante sua ausência, na própria cidade de Oeiras, ocorreu outro pronunciamento dos partidários da Independência.
Conseguindo o referido governador dominar a situação também naquela vila, os partidários de D. Pedro recorreram à Junta Governativa do Ceará. Esta determinou que fossem enviados ao Piauí, com reforços, o governador José Pereira Figueiras e seu assessor Tristão Gonçalves Pereira de Alencar. Apesar de seu valor, os patriotas das duas províncias foram vencidos em Jenipapo, em março de 1823. Entretanto, Fidié não pôde impedir que outras povoações piauienses manifestassem sua adesão ao Império. Finalmente, indo guarnecer a vila maranhense de Caxias, o oficial português acabou sendo aí, encurralado e negociou a paz a 26 de julho de 1823. Enquanto isso, o Piauí passou para as mãos dos partidários da Independência, entre os quais se destacaram Simplício Dias da Silva e Manuel de Sousa Martins.
Guerra da Independência da Província Cisplatina
Em junho de 1822, haviam protestado fidelidade ao governo de Lisboa as tropas lusitanas que, sob o comando de Álvaro da Costa de Souza Machado, guarneciam Montevidéu. Por outro lado, as forças dirigidas pelo tenente-general Carlos Frederico Lecor, então Barão de Laguna, manifestaram a sua adesão ao príncipe D. Pedro.
Álvaro da Costa fortificou-se com suas tropas na Capital cisplatina, enquanto Lecor, cuja tropa era menos numerosa, retirou-se para o interior, ultimando os preparativos para cercar Montevidéu.
Em outubro de 1823, chegava a Cisplatina uma divisão naval brasileira que, após bloquear o rio da Prata, atacou os navios portugueses ali ancorados. Percebendo que não receberia reforços de Portugal, Álvaro da Costa assinou um acordo com as imperiais, estabelecendo condições para a retirada de suas forças rumo a Lisboa.
Reconhecimento da Independência
Enquanto se processava a Independência no Brasil exerciam grande influência na política europeia os princípios da Santa Aliança, acordo estabelecido entre as mais importantes nações do Velho Continente no sentido de defender o colonialismo e combater as ideias liberais.
Ainda em 1822, a Santa Aliança realizara um congresso em Verona, onde fora proposta a recolonização dos países americanos, os quais haviam optado pela emancipação política.
Entretanto, a Inglaterra, sob o governo de Canning, não aderira à Santa Aliança. No tocante à Independência do Brasil, a Grã-Bretanha viu-se pressionada por dois fatores diferentes: por um lado, a Corte de Londres não desejava romper com Portugal, seu tradicional aliado; por outro, não convinha aos ingleses prejudicar o comércio com o Brasil, do qual esperavam auferir lucros extraordinários.
Imediatamente tiveram início entendimentos diplomáticos entre Canning e nosso embaixador em Londres, o marechal Felisberto Caldeira Brant de Oliveira e Horta. Deles resultou a ida a Lisboa do diplomata Charles Stuart, com a missão de convencer D. João VI e seus ministros da inevitabilidade da independência brasileira.
Finalmente, no dia 29 de agosto de 1825, chegava-se a uma solução para o problema do reconhecimento da nossa emancipação política. Portugal e Brasil assinaram um tratado de paz e amizade.
Nosso país, entretanto, deveria pagar ao governo luso a quantia de 2 milhões de libras esterlinas, ficando também D. João VI com o direito de usar o título de imperador do Brasil.
D. Pedro e a Constituinte
Ao contrário dos conceitos amplamente difundidos pelos estudiosos ligados à historiografia tradicional, a proclamação da Independência, a 07 de setembro de 1822, não definiu, por si só, a separação entre Brasil e a Metrópole lusitana. Realmente, não se efetivou a emancipação política do Brasil com as atitudes iradas assumidas por D. Pedro, quando do episódio denominado "O Grito do Ipiranga". Na verdade, a autonomia brasileira esteve em perigo mesmo depois daquele gesto do príncipe, e foi em torno desse perigo que giraram as lutas e intrigas políticas que marcaram a vida de nosso país durante o Primeiro Reinado (1822-31).
O ano de 1822 assinalou acontecimentos de importância no que diz respeito à separação entre Brasil e Portugal. Em janeiro daquele ano, o príncipe afirmou que permaneceria no Brasil, contra as ordens das Cortes de Lisboa, que determinavam sua ida para Portugal (episódio do Fico); em fevereiro, as tropas portuguesas foram obrigadas a abandonar o Rio de Janeiro; em setembro, a separação foi afirmada oficialmente pelo príncipe; em outubro, foi ele aclamado Imperador Constitucional; em dezembro, foi coroado. No entanto, todas essas decisões e medidas eram meramente preparatórias. Elas definiram a autonomia política como desejo dos brasileiros e situaram a sua plena efetivação num quadro internacional profundamente marcado pelo antagonismo entre as forças favoráveis e as contraditórias à separação política das colônias do Continente Americano.
Além disso, definiram o sentido da independência de nosso país: o Brasil seria politicamente autônomo, sob o domínio da classe senhorial, proprietária das terras e dos escravos, permanecendo, pois, intocada a sua estrutura de produção.
Finalmente, os eventos do ano de 1822 definiram também a situação política da nação recém-independente: o Brasil seria governado por um príncipe, a quem foi dado o título de Imperador, ligado a Portugal por ser aí nascido filho de seu soberano e herdeiro de seu trono.
Todos esses vínculos de D. Pedro com Portugal tiveram, como veremos, significação muito séria, colocando em posição de desconfiança, no país recém-autônomo, o seu próprio governante. Os brasileiros temiam que, confundindo-se na mesma pessoa o governante brasileiro e o futuro governante português, surgisse eventualmente a emergência da opção ou da solução de unir os dois países sob o mesmo mandatário, o que quebraria o sentido da autonomia.
No sentido internacional, as forças reacionárias (ligadas aos restos do modo feudal de produção, ainda existente na Europa) contrárias à autonomia do Brasil e favoráveis ao restabelecimento do domínio luso, opunham-se às forças que defendiam a autonomia brasileira, mas a desejavam realizada sob a égide de um regime político monárquico. Com efeito, para essas forças, destacando-se a burguesia industrial britânica, temerosas de uma radicalização de cunho popular do processo da independência do Brasil, a monarquia significava a certeza de que a emancipação política de nosso país seria completada sem alterações sociais profundas.
Os aspectos sociais externos do problema ficaram bem evidenciados nas negociações para o reconhecimento da autonomia brasileira pelas nações europeias. Os aspectos internos ficaram claros no conflito, iniciado logo após a autonomia, entre a classe senhorial -- que queria preservar nossa estrutura social vigente -- e as classes populares, cujas manifestações políticas tinham sido contidas durante todo o período colonial e pretendiam, agora, além da separação política, reformas de caráter social e, alguns, até a própria mudança do regime.
Apesar da existência dessa grave dissensão no interior do organismo social brasileiro, um ponto de vista era comum a todas as lideranças políticas da época, quer radicais, quer conservadoras: a desconfiança em relação ao Imperador Constitucional, pela ambiguidade de sua posição.
Proclamada a Independência, os antagonistas presentes no corpo social do Brasil (autonomistas versus lusitanófilos e conservadores versus liberais reformistas ou revolucionários) geraram prolongados e sangrentos conflitos, que se estenderam por todo o Primeiro Reinado e pela Regência (1831 - 1840). O ano de 1823, a rigor o primeiro de nossa vida autônoma, marcou o início de todas essas lutas. (Veja no quadro a seguir como se dispunham as forças políticas antagônicas e os interesses que elas representavam).
Logo após a proclamação da Independência do Brasil em São Paulo, D. Pedro regressou ao Rio de Janeiro, onde foram tomadas as primeiras providências relativas à nova situação política vivida pelo país. A 18 de setembro de 1822, eram estabelecidas as novas armas, escudos e bandeira do Brasil.
Em seguida, concedeu-se anistia a todas as pessoas envolvidas em questões políticas, excluindo-se, porém, os acusados que já estivessem presos e sob processo. Pouco depois, entre o conservador José Bonifácio, chefe do Ministério e direto colaborador de D. Pedro, e os líderes liberais reformistas (quase todos maçons), surgiram sérias divergências, por estes desejarem que no momento da aclamação do imperador também fosse jurada a Constituição, para cuja elaboração fora convocada uma Assembleia. Nesse episódio, entretanto, prevaleceu a opinião do ministro.
Dias depois da aclamação de D. Pedro como Imperador Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil, realizada a 12 de outubro, no Campo Santana, chegaram a ponto crítico as relações de José Bonifácio com outros promotores da Independência, acusados pelo Patriarca de conspirarem contra as instituições políticas então vigentes. Prontamente desejosos de um ambiente de autoridade , para consolidar a emancipação política do Brasil sem o risco de alterações profundas na estrutura socioeconômica da nação, o ministro deu início à repressão aos liberais reformistas. Inicialmente, foi suspenso o Jornal Correio do Rio de Janeiro, cujo redator, líder radical João Soares Lisboa, teve ordem de deixar o país. Em seguida, influenciado por José Bonifácio, o imperador suspendeu os trabalhos das lojas maçônicas, tradicional reduto de intelectuais liberais, ordenando, também, a realização de uma rigorosa devassa em São Paulo, onde deveriam ser presos os adversários do político santista.
| Agrupamento Político | Setores Sociais Representados | Posição Ideológica |
| Ala ou Facção Conservadora do "Partido Brasileiro | Camada Proprietária (rural e urbana) | Pró-autonomia Antirreformista Contrarrevolucionária |
| Ala ou Facção Liberal do Partido Brasileiro | Camadas Médias Urbanas Camadas Populares Setores Progressistas da amada Proletária |
Pro-autonomia Pró-reformas sociais Pró-alterações no regime político |
| "Partido Português | Comerciantes Lusos Oficiais de Origem Portuguesa Assessores Políticos de D. Pedro | Anti-autonomia Antirreformas |
Surgindo protestos contra essas medidas, D. Pedro resolveu permitir que ficasse no país aquele jornalista e que continuassem as atividades de maçonaria. Em consequência disso, José Bonifácio e seu irmão Martins Francisco exoneraram-se imediatamente do Ministério. A crise durou alguns dias, permitindo aos adeptos dos Andradas realizarem manifestações em prol da recondução destes ao poder. Assim foi feito e, a 30 de outubro de 1822, era recomposto o Gabinete.
Politicamente vitorioso, José Bonifácio mandou proceder a um rigoroso inquérito, prendendo todos os apontados como conspiradores liberais. Prontamente reprimiu as atividades da maçonaria, efetuando-se, então inúmeras prisões, entre as quais de José Clemente Pereira e do padre Januário da Cunha Barbosa, pouco depois deportados para a França. Joaquim Gonçalves Ledo, outro acusado, refugiou-se em São Paulo, de onde conseguiu escapar para Buenos Aires, graças à proteção do Cônsul da Suécia.
Afastados, assim, os liberais ligados ao movimento da Independência, em abril de 1823, realizou-se a reunião preparatória da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa, que seria definitivamente instalada a 03 de março. José Bonifácio elegeu-se, nesse mês, vice-presidente da referida assembleia e, em junho, presidente. Em julho, porém, o prestígio do ministro foi severamente abalado, pois, além disso, seus adversários, agora membros da Assembleia, procuraram envolvê-lo no espancamento sofrido pelo jornalista Luís Augusto May, redator do picante periódico "A Malagueta".
Aproveitando-se de um acidente sofrido pelo imperador, que o deixou acamado, muitas pessoas que o visitaram queixaram-se dos Andradas. Começava, dessa maneira, a conspiração dos adversários da autonomia do Brasil contra o Patriarca.
Por fim, com a absolvição de alguns inimigos políticos de José Bonifácio no Rio de Janeiro e a anistia concedida pelo imperador aos envolvidos numa bernarda (complô) contra o ministro em São Paulo, os Andradas, desprestigiados, exoneraram-se do gabinete. Simultaneamente, D. Pedro, cada vez mais influenciado pelos componentes do Partido Português, fechou o apostolado ou a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Santa Cruz, a sociedade secreta fundada por José Bonifácio. Imediatamente, os Andradas, através dos jornais Tamoio e Sentinela da Liberdade à Beira-Mar da Pria Grande, passaram para o lado da militância oposicionista.
Desde 03 de junho de 1822 -- antes portanto da própria Independência do Brasil -- fora convocada uma Assembleia Geral Constituinte e Legislativa para o nosso país. Entretanto, os acontecimentos ligados ao processo de autonomia e à Guerra da Independência atrasaram a instalação da Constituinte. Finalmente, em abril de 1823, chegaram ao Rio de Janeiro deputados em número suficiente para o início dos trabalhos, solenemente inaugurados a 03 de maio.
A Ação Legislativa da Assembleia
Com a finalidade de elaborar as leis ordinárias de que o país necessitava, além da Constituição, inúmeros foram os projetos apresentados à Assembleia. Um deles, de autoria de Muniz de Tavares, provocou vivas discussões. Esse projeto autorizava o governo a expulsar do país todos os indivíduos que não tivessem demonstrado sua adesão à causa da emancipação política brasileira. Dessa maneira, durante os trabalhos legislativos e constituinte da Assembleia de 1823, tiveram início de forma aberta e pública, os conflitos entre os membros do Partido Brasileiro e do Partido Português. Além do projeto de Muniz Tavares, destacaram-se as seguintes proposições: concessão de uma anistia geral , extinção do Conselho dos Procuradores Gerais das Províncias, reorganização dos governos provinciais segundo os cânones do federalismo, e suspensão do alvará que proibira o funcionamento das sociedades secretas. Entretanto, em todos os deputados estava presente a finalidade principal da Assembleia: "a elaboração da Carta Constitucional".
A fim de preparar um anteprojeto da Constituição, designou-se uma comissão composta de seis elementos: Antonio Carlos, José Bonifácio, Manuel Ferreira da Câmara, Antônio Luís Pereira da Cunha, Pedro de Araújo e Francisco Muniz Tavares. Antonio Carlos, presidente da comissão, recebeu, depois de algum tempo, os trabalhos preparados por não serem originais, mas adaptados das Constituições portuguesa e espanhola. Por esse motivo, ficou Antonio Carlos encarregado de preparar outro texto, o que foi feito no curto prazo de quinze dias. Apresentado em setembro, somente então começou a sua tarefa específica.
A Constituição da Mandioca
O projeto de Antônio Carlos, composto de 272 artigos,era um código constitucional liberal e relativamente jacobino (antilusitano), calcado em ideias de tratadistas estrangeiros, principalmente as expressas por Benjamim Constant, em seu Cours de Politique Constitutionelle. Uma característica curiosa do texto de Antônio Carlos era a de conferir aos cidadãos o direito de eleger ou ser eleito, de acordo com seu poder aquisitivo, tomando como base de cálculo uma mercadoria de consumo corrente em nosso país: a farinha de mandioca. Assim para que alguém pudesse ser eleitor de paróquia ou de província, deputado ou senador, seria necessário que possuísse renda líquida anual correspondente ao valor de 150, 250, 500 ou 1.000 alqueires de mandioca. "Tão estranha e pitoresca exigência despertou a veia humorística do povo, donde logo partiu o apelido destinado a ferir de ridícula Constituição da Mandioca" (Tobias Barreto).
Entretanto, a inexperiência legislativa da maioria dos deputados e a agitação política fizeram com que até novembro de 1823, quando foi dissolvida a Constituinte, somente 24 artigos do longo projeto de Antônio Carlos tivessem sido discutidos.
A Noite da Agonia
Antes da saída dos Andradas do primeiro Ministério Imperial, já alguns incidentes haviam repercutido na Assembleia. O espancamento do jornalista Luís Augusto May foi um deles. Com efeito, no próprio recinto da Constituinte, Antônio Carlos quase agrediu o deputado Carneiro da Cunha que havia protestado contra aquele fato. Com a exoneração de Antônio Carlos e de seu irmão Martim Francisco, tornou-se mais acentuada a oposição de alguns deputados ao governo e ao próprio imperador. Além disso, extramuros, a imprensa oposicionista, notadamente a de orientação andradista, tornou-se bastante ativa. O Tamoio e O Sentinela à Beira-Mar da Praia Grande publicaram assinados com o pseudônimo de "Um brasileiro oculto" contra os oficiais portugueses. Estes reagiram espancando David Pamplona, apontado como autor dos referidos artigos.
A agressão contra Pamplona transformou-se em grave caso político. Rapidamente, na própria Assembleia, agravaram-se as divergências entre os partidários da consolidação da Independência e os componentes do Partido Português, agora assessorando D. Pedro. A sessão da Constituinte do dia 10 de novembro foi tão agitada que seu presidente, João Severiano Maciel da Costa, suspendeu-a, adiando os trabalhos para o dia seguinte.
A 11 de novembro, D. Pedro enviou à Assembleia uma mensagem, exigindo-lhe satisfação aos oficiais lusitanos. Os deputados perceberam que a Constituinte estava ameaçada. Por proposta de Antônio Carlos a Assembleia declarou-se em sessão permanente e nela ficaram os constituintes durante toda a noite do dia 11, denominada "A noite da Agonia". Na manhã seguinte, por ordem do imperador, as tropas acampadas em São Cristóvão dissolveram a Constituinte, prendendo, em seguida, diversos deputados da oposição, entre os quais Antônio Carlos.
A CONSTITUIÇÃO DE 1824
Dissolvida a Constituinte em consequência do agravamento das hostilidades entre a ala dos brasileiros e a facção portuguesa,o imperador criou um Conselho de Estado com dez membros, todos brasileiros de nascimento, entregou o governo das províncias a elementos ambientados em cada uma pondo termo ao regime das Juntas Provinciais, e determinou a elaboração de uma Constituição que ele outorgou ao país.
Era o imperador a fazer algumas concessões, porém todas formais. Assim, obrigava-se a recrutar, entre brasileiros, o Conselho de Estado (quando o essencial estava na Constituição e nos poderes dados ao próprio imperador) e a fazer da Constituição (quando o essencial estava no fato de a Carta ser outorgada e, mais do que isso, no fato de que as garantias de liberdades públicas eram amplas na letra e restritas na realidade).
Prescrevia a Constituição outorgada a 25 de março de 1824, realmente, a inviolabilidade do lar, o sigilo da correspondência, a livre locomoção, vedando a prisão sem culpa formada, determinando a liberdade de pensamento, de reunião e de petição. O documento repousava em três princípios:
- nenhum cidadão poderia ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude da lei.
- as disposições das leis não teriam nenhum efeito retroativo.
- nenhuma lei seria estabelecida sem utilidade pública.
A Constituição de 1824 instituía como poderes da nação o Executivo, o Legislativo, o Judiciário e o Moderador, sendo o exercício dos três primeiros considerado como expressão de delegação popular, cabendo a legitimação e também o exercício do Poder Moderador ao próprio imperador. Entretanto, a Carta limitava extremamente a consulta eleitoral, vetando direito de voto aos não católicos, aos administradores de fazendas e fábricas, aos religiosos e a todos os que tivessem renda anual inferior a 100.000 réis por bens de raiz, indústria comércio, ou emprego.
As forças militares dividiam-se em três linhas: o Exército, destinado a manter as fronteiras; as milícias, destinadas a manter a ordem pública e as guardas policiais, destinadas à segurança do Estado. Sé em caso de guerra ou revolução podiam ser afastados de suas áreas ou da missão específica que a Carta Magna lhes impunha. Nas milícias, fixadas em cada área geográfica, os oficiais eram eletivos menos os majores e os ajudantes. A predominância das milícias era evidente e clara a desimportância do Exército. Mesmo assim, a este se determinava que fosse "essencialmente obediente", que não se reunisse jamais sem ordem da autoridade constituída. Ficavam asseguradas as patentes dos oficiais, os quais só as perderiam por sentença passado em julgado no Juízo competente.
Os poderes conferidos ao imperador, ao contrário do que pretendia o projeto de Antônio Carlos durante a Constituinte, eram os mais amplos, incluindo o de dissolver a Câmara, pois o monarca representava o Poder Moderador e competia ainda a ele escolher e demitir os membros do Conselho de Estado. A Constituição foi outorgada ao país, para que fossem ouvidas as autoridades locais, mas não houve tempo suficiente para isso. Câmaras locais, como as de Itu e Salvador, impugnaram inutilmente, alguns pontos.
A luta entre as forças que encontravam condições para emergir e desenvolver atividades políticas generalizou-se por todo o país, assumindo formas particulares em cada caso. A preocupação geral, entretanto, era a autonomia e a profundidade que atingiria inevitável reforma da estrutura brasileira, pelo menos a política, uma vez que se tratava agora de constituir o Estado autônomo. O golpe da dissolução da Constituinte teve, assim, repercussão em todo o território nacional. Os que haviam sido escolhidos representantes das províncias viram-se destituídos de suas funções. Ficava claro que se negava aos brasileiros o direito de elaborar suas próprias leis, depois de terem sido eles convidados a escolher os seus representantes para isso. Iniciava-se o aprofundamento da separação entre o imperador e largas camadas de opinião, que o haviam aceito como governante.
A CONFEDERAÇÃO DO EQUADOR (1824)
A dissolução da Assembleia Constituinte pelo imperador não provocou reações populares no Rio de Janeiro e demais províncias do sul do país. Pernambuco, entretanto, era um importante foco de liberalismo e possuía uma tradição revolucionária, forjada na luta pela expulsão dos holandeses, que se manteve viva até os primeiros momentos da pós-independência.
Com efeito, alguns deputados da Constituinte dissolvida, ao retornarem a Pernambuco, publicaram um severo manifesto contra a atitude do imperador. Além disso, fora eleito presidente da província Manuel de Carvalho Pais de Andrade, antigo chefe revolucionário de 1817 -- que escapara à pena de morte, refugiando-se nos Estados Unidos -- a quem eram atribuídas tendências liberais e republicanas.
Contrariado com a eleição de Manuel Pais de Andrade, o imperador nomeou para presidir a Junta do Governo de Pernambuco o Morgado do Cabo, Francisco Pais Barreto, futuro Marquês do Recife, político plenamente identificado com a Monarquia e disposto a apoiar a tendência absolutista de D. Pedro I. Entretanto, Manuel Pais de Andrade e seus seguidores recusaram-se a dar posse a Pais Barreto, sob o pretexto de esperar a resposta à representação contra a escolha do imperador, enviada ao Rio de Janeiro.
Imediatamente, a favor do Morgado do Cabo pronunciaram-se alguns oficiais do Recife, que chegaram a prender temporariamente Manuel Pais de Andrade. Em seguida, os partidários de Pais Barreto retiraram-se da capital para o sul da província, onde receberiam o apoio de uma pequena divisão naval, comandada pelo capitão-de-mar-e-guerra, John Taylor.
Procurando contornar a grave situação surgida em Pernambuco, D. Pedro I nomeou um terceiro governante para a província: José Carlos Mayrinck da Silva Ferrão que, cedendo à pressão dos correligionários de Manuel Pais de Andrade, deixou de tomar posse. Disposto a lançar-se definitivamente à luta, Pais de Andrade proclamou, a 02 de julho de 1824, a Confederação do Equador, que visava desprezar as "instituições oligárquicas, só cabidas na encanecida Europa e incorporar o nosso país ao sistema americano". Nesse sentido, o governo revolucionário, após adotar provisoriamente a Constituição Colombiana, despachou vários emissários às demais províncias nordestinas, a fim de obter adesão à causa pernambucana.
No Rio de Janeiro foram tomadas severas medidas contra a insurreição; o governo imperial, após promulgar um decreto suspendendo as garantias constitucionais em Pernambuco, enviou uma forte expedição, sob o comando de Lord Cochrane, na parte naval, e do brigadeiro Francisco Lima e Silva, na parte militar, para atacar a província rebelde.
Após desembarcar as tropas de Lima e Silva em Alagoas, onde se juntariam às forças do Morgado do Cabo, formando o Exército Cooperador da Boa Ordem, Cochrane iniciou o bloqueio naval do Recife. Inicialmente, o almirante tentou, através de proclamações ao povo e ao governo revolucionário, convencê-los das vantagens de uma solução pacífica. Não o conseguindo, ordenou o bombardeio do porto de Recife.
Paralelamente, as tropas desembarcadas em Maceió aproximaram-se da capital de Pernambuco, ocupando os bairros de São José e Santo Antônio, de onde passaram a atacar, de 12 a 17 de setembro, o centro de Recife, até vencerem completamente os insurretos, que, então, se retiraram para Olinda, seu último reduto em Pernambuco.
Imediatamente, foram estabelecidas, entre a Câmara de Olinda e Lima e Silva, negociações para a paz, sob a condição de total esquecimento e anistia a oficiais inferiores e soldados, executando os cabeças da rebelião, cuja sorte seria decidida pelo imperador. Manuel de Carvalho Pais de Andrade, vendo-se batido, refugiou-se na corveta inglesa Tweed, enquanto frei Caneca e o resto das tropas da Confederação do Equador retiravam-se para o norte, concentrando-se em Goiana. Perseguidos pelas forças governamentais, foram finalmente vencidos em Fazenda do Jiz, onde Caneca foi aprisionado.
Restabelecida a ordem governamental em Pernambuco, frei Caneca foi fuzilado junto à forca, no Recife, por terem os carrascos se recusado a enforcá-lo, mesmo sob ameaças de espancamento. Em seguida, tendo D. Pedro recusado anistia, outros sete envolvidos foram condenados à pena capital: o capitão Lázaro de Souza Fontes, Antônio de Macário de Morais, o major Agostinho Bezerra Cavalcanti e Souza, o capitão Antônio de Monte Oliveira, o tenente Nicolau Martins Pereira, Francisco Antônio Fragoso e o norte-americano James Heide Rodgers. Simultaneamente, no Rio de Janeiro, para onde tinham sido enviados, foram executados o português João Guilherme Ratcliff, o maltês João Metrocich e o pernambucano Joaquim Loureiro, este último comandante da pequena esquadra da Confederação.
Assumiram grandes proporções no Ceará os acontecimentos revolucionários de 1824: em represália à dissolução da Constituinte, as Câmaras de Campo Maior de Quixeramobim e Icó declararam deposto o imperador; a própria Junta do Governo da província manifestou-se contrária à atitude do governo imperial sem com ele, entretanto, romper.
Em abril de 1824, contribuiu ainda mais para agravar a crise a chegada a Fortaleza do presidente nomeado para a província, Pedro José da Costa Barros. Apesar da incerteza reinante, conseguiu assumir o cargo, mas nele pouco permaneceu, pois José Pereira Filgueiras e Tristão de Alencar Araripe, intimamente ligados a Manoel de Carvalho Pais de Andrade, depuseram-no mediante um golpe. A 26 de agosto, o Ceará tornava-se parte integrante da Confederação do Equador.
Prontamente, o Governo Provisório convocou uma Assembleia Constituinte. Entretanto, os partidários de D. Pedro I concentrados no interior reagiram contra os insurretos. Para combatê-los, Filgueiras e Araripe seguiram, respectivamente, rumo ao interior da Paraíba e Vale do Jaguaribe, deixando à testa do Governo Revolucionário José Félix de Azevedo e Sá. Este, fraco e covarde, ao ver chegarem a Fortaleza duas naus comandadas por Cochrane, apressou-se em içar na cidade a Bandeira do Império e aclamar o nome do imperador, solicitando, ao mesmo tempo, perdão para aqueles que, "enganados, haviam aderido ao movimento".
Araripe, vencido em Santa Rosa entre o Jaguaribe e seu afluente Riachão foi assassinado por seus partidários quando se retirava. Filgueiras, ao saber do ocorrido, depôs as armas e entregou-se em Icó, vindo a falecer quando viajava preso para o Rio de Janeiro. Restabelecido o domínio absoluto da autoridade do governo central, Costa Barros foi reposto no cargo de governador, assumindo o comando militar da província o coronel-engenheiro Conrado Jacob Niemeyer. Este, após pacificar o interior, presidiu a Comissão Militar encarregada de castigar os cabeças da insurreição. Oito insurretos foram condenados à morte, sendo executados cinco deles.
A CRISE DO PRIMEIRO REINADO E A ABDICAÇÃO DO IMPERADOR
A popularidade de D. Pedro I foi gradualmente diminuindo, concorrendo para isso as seguintes causas:
A sucessão ao trono português-- sério motivo de desentendimento entre D. Pedro e os brasileiros, foi o interesse por ele dedicado à questão dinástica surgida com a morte de D. João VI, em 1826. Proclamado rei de Portugal, o imperador, apenas por alguns dias aceitou a coroa de seus antepassados, preferindo renunciar em favor de sua filha D. Maria da Glória. Sendo esta uma criança, estabeleceu-se que ela se casaria com D. Miguel, irmão de D. Pedro, que governaria a nação portuguesa provisoriamente como regente. Entretanto, o infante Miguel fez-se aclamar, a 15 de julho de 1828, rei absoluto em detrimento dos direitos da princesa Maria da Glória, que retornaria ao Brasil, sem ser desposada. Prontamente, diplomatas brasileiros envolveram-se na questão. Além disso, o próprio monarca, em 1829, dispôs-se a ir à Europa, com a finalidade de obter uma solução para o conflito. A preocupação que esse problema dinástico trazia ao imperador era encarado no Brasil como de alheamento à situação nacional. Criticava-se também a intervenção dos representantes diplomáticos brasileiros à pessoa do soberano. Em suma, os acontecimentos relacionados com a sucessão portuguesa, obrigando D. Pedro a voltar sua atenção para assuntos ligados a sua antiga pátria, agravaram as desconfianças nativas contra o imperador.
- a escandalosa vida particular do imperador (desgastava-se também D. Pedro em virtude de suas notórias ligações com Dona Domitila de Castro a quem agraciara com o título de Marquesa de Santos).
- a impulsiva atuação de D. Pedro pela imprensa -- o imperador, que desde 1822 colaborava secretamente em jornais, ao ver-se diante de uma severa oposição, não poupou críticas impressas àqueles que julgava seus desafetos. Fazia-o também por intermédio de seu secretário particular e amigo íntimo, o conselheiro Francisco Gomes da Silva, apelidado "o Chalaça", homem de pouca instrução e famoso por suas intrigas e vida irregular.
- o reaparecimento do sentimento liberal e do espírito nativista -- nos últimos momentos do Primeiro Reinado, falava-se nos círculos políticos da existência de uma sociedade secreta, as "Colunas do Trono", não oficialmente autorizada pelo imperador, cujo objetivo seria a manutenção do absolutismo monárquico. Para combatê-la, criou-se uma outra denominada "Jardineira ou Carpinteiro de São José", com sede no Rio de Janeiro e ramificada nas províncias, da qual faziam parte políticos, jornalistas e militares.
Como vimos a Constituinte revelara a existência de dois "partidos" ou facções políticas, a dos brasileiros e dos portugueses, isto é, a dos que esposavam o nativismo, poupando ou não a figura do imperador, e a dos que desejavam o retorno à situação de subordinação a Portugal, ou quando menos, de união com a antiga Metrópole. O "partido dos brasileiros", entretanto, crescera com a dissolução da referida Assembleia Constituinte, revitalizara-se com a rebeldia dos confederados do Equador e ficara mesmo engrandecido com a derrota dos rebeldes, não apenas pelo que defendiam, como também pelas lições de heroísmo que seus mártires legaram. O descontentamento com o governo central crescia a cada momento e a própria pessoa do imperador era agora envolvida nos ataques e no ânimo da população politicamente ativa.
O ano de 1825 começou com o bárbaro fuzilamento de frei Caneca e terminou com a campanha para a manutenção da Cisplatina, que viria exigir novos sacrifícios de ordem material e de sangue. O processo de recrutamento então utilizado era selvagem e gerava inquietações.
Na primeira legislatura da Assembleia, finalmente eleita e instalada em 1826, repercutiram os males políticos de então, quando a morte de D. João VI forçou D. Pedro a realizar a opção pró-Brasil, abdicando de seus direitos ao trono luso, o que não significou, como já ressaltamos, seu distanciamento dos problemas portugueses. Na primeira legislatura, a facção conservadora era predominante na Assembleia, eleita ainda sob os efeitos da duríssima repressão levada a efeito contra os confederados nordestinos. No entanto, a presença e a atividade de alguns parlamentares liberais, que encarnavam as melhores aspirações do povo brasileiro, permitiram o surgimento, no próprio recinto da Assembleia, de protestos e descontentamentos.
A maioria desses protestos decorreu do modo de recrutamento para a guerra no sul. Esse conflito, de que resultou a perda da Cisplatina -- luta inglória e impopular --, ensejou toda sorte de violências e humilhações aos recrutas brasileiros, causando em 1826 intensa indignação. Foram discursos veementes, em que se salientaram Cunha Matos, Costa Aguiar, Teixeira de Gouveia, Paula Souza e José Custódio Dias.
Este último, dotado de temperamento teatral, disse, em discurso patético que "diante dos ossos carcomidos de nossos soldados, haveriam de tremer os malvados, os perversos governantes". O deputado Pereira de Vasconcelos, não menos caloroso, queria que o procedimento da Câmara, para ser eficaz, tivesse forma adequada. Para isso, propunha que se pedisse informações aos governos, aduzindo que em todo o país o recrutamento se fazia de modo desumano e brutal. Queria elementos seguros para uma ação judicial regular contra o ministro da Guerra. Queria que, por lei, se suspendesse o recrutamento em todas as províncias da nação brasileira. Apesar da oposição do Legislativo, a Campanha Cisplatina arrastou-se. Em fevereiro de 1827, com o combate do Passo do Rosário, verificou-se a impossibilidade de solução da questão sulina pela força. Mas a paz só seria assinada em agosto de 1828.
O ambiente sociopolítico, com o passar dos anos e o progressivo agravamento da situação, era, pois, de tormenta. As desordens constantes traziam a população de sobressalto. Logo, a anarquia atingiria a área militar. Entrementes, imigrantes irlandeses, ludibriados por falsas promessas de patentes militares no Exército brasileiro, haviam chegado ao Rio de Janeiro. Nada se prepara para recebê-los e o recurso foi atirá-los, famintos e maltrapilhos, nos quartéis da rua dos Barbonos. O estado de degradação a que chegaram, tornou-os semelhantes aos africanos ao desembarcarem da longa travessia atlântica. Muitos deles conseguiram assentar praça, outros viviam a pedir esmolas. Era, por conseguinte, bem precário o espírito de disciplina dos batalhões estrangeiros que o gosto militarista de D. Pedro e as exigências da manutenção da ordem no Império haviam criado. Em razão disso, eclodiu uma revolta no batalhão alemão, que recebeu adesão de mais corpos militares alienígenas. Durante cinco dias, de 09 a 13 de junho de 1828, o Rio viveu em sobressalto. Nessa ocasião, Evaristo da Veiga, no jornal Aurora Fluminense, protestaria: "desgraçado do povo do Brasil, que sofre o jugo do estrangeiro".
A inquietação reinante era traduzida pela imprensa. Surgiram os atentados a jornalistas, aos "pasquineiros", homens de pena virulenta, que não trepidavam diante de acusação alguma. Em agosto de 1829, Luís Augusto May, redator do órgão liberal A Malagueta, sofreu covarde agressão a mando do governo. Diante dessas violências, os jornais -- salvo os que dependiam do Estado -- intensificaram os protestos. Em 1830, surgiu O Repúblico, folha de Antônio Borges da Fonseca, a mais conhecida de quantas lançou o notório agitador. Clamando contra o regime opressor, Borges foi processado em 1831, por pregar o federalismo. Sua absolvição marcou o desencadeamento dos acontecimentos finais do Primeiro Reinado, pressagiando a abdicação de Sete de Abril.
As campanhas da imprensa, por outro lado, contribuíram, ainda mais, para agravar a situação. Tudo prenunciava mudanças políticas. Tudo anunciava o fim do absolutismo de D.Pedro.
Afastavam-se do trono, pouco a pouco, as forças sociopolítico conservadoras que dele pretendiam fazer o escudo contra as alterações econômicas, sociais e políticas que o processo da independência tornava imperativas. A monarquia foi o expediente político de que se valeram as classes dominantes para frustrar quaisquer alterações na estrutura do país, limitando-se o desenvolvimento político à simples autonomia. A princípio, D. Pedro serviu-se da instabilidade de seu caráter, de seu personalismo e de sua conduta irregular. Desgastou-se profundamente, tornando-se inútil para servir aos propósitos conservadores da classe dominante que empreendera a independência do Brasil.
O Primeiro Reinado caracterizou-se por uma constante instabilidade política e social. A terrível reação de D. Pedro I contra os revolucionários da Confederação do Equador afastara dele até os liberais moderados e mais acentuado se tornaria o isolamento político do imperador depois dos desastres militares na guerra do sul, dos levantes dos batalhões estrangeiros, dos escândalos de sua vida amorosa e, fundamentalmente, a partir do momento em que passou a sofrer a influência de áulicos portugueses. Em 1829, uma corrente liberal exigente reacendia as paixões nativistas e reivindicava seu direito de intervir na direção do país. Muita gente começava a achar que a independência do Brasil, com um príncipe português no trono, fora um grande equívoco.
As notícias chegadas da França, sobre a revolução de caráter liberal que destronara Carlos X, tiveram grande repercussão nos meios políticos do Brasil. Em consequência, diversas foram as manifestações de solidariedade aos revolucionários franceses. Por esse motivo, centenas de pessoas foram encarceradas. O jornalista italiano Líbero Badaró, que protestara contra essas prisões, alguns dias depois foi assassinado. Acusou-se imediatamente o governo como mandatário do crime e Badaró passou a ser considerado mártir da liberdade.
Com a finalidade de recuperar o prestígio perdido, D. Pedro empreendeu, em fins de 1830, uma viagem a Minas Gerais. Foi, entretanto, recebido com extrema frieza. Em Ouro Preto, sabedor das Campanhas contra ele realizadas pela imprensa oposicionista o imperador resolveu condenar a liberdade de expressão, em uma proclamação que revelava bem a crise política que o envolvia: "Existe um partido desorganizado que, aproveitando-se das circunstâncias puramente peculiares à França, pretende iludir o povo brasileiro contra o governo, a fim de representar no Brasil cenas de horror e de luto, com o intento de empolgar empregos e saciar suas vinganças e paixões particulares, a despeito do bem da Pátria a que não atendem aqueles que tem traçado o plano revolucionário".
No Rio de Janeiro, os partidários do imperador, notadamente comerciantes portugueses, preparavam-lhe manifestações de apoio por ocasião de seu regresso de Minas Gerais. Surgiram então numerosos incidentes de rua entre brasileiros exaltados e os "corcundas", denominação dada aos cidadãos reinóis. Os nacionais, irritados com as fogueiras acessas pelos portugueses, procuraram apagá-las. Em seguida, passaram a atacar as lojas dos lusitanos, que as defendiam com garrafas vazias. Daí resultou a designação de "Noite das Garrafadas" dada às agitações de 12, 13 e 14 de março de 1831.
Os distúrbios provocaram imensa repercussão. Na Chácara da Floresta, localizada no morro do Castelo, residência do deputado José Custódio Dias, reuniram-se 23 deputados e um senador, Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, com a finalidade de redigir um enérgico manifesto, expondo a crise política do ponto de vista dos brasileiros. Além disso, os signatários da severa representação protestavam contras as ameaças de prisão feitas aos brasileiros e exigiam a punição dos portugueses responsáveis pelas garrafadas.
Tentando apaziguar os ânimos, D. Pedro resolveu nomear, a 19 de março, um novo Ministério, composto exclusivamente de elementos ligados ao partido brasileiro. Pouco depois, a 25 do mesmo mês, procurando demonstrar ainda melhor a sua boa vontade em atender aos desejos dos nacionais, compareceu a uma cerimônia religiosa, comemorativa do sétimo aniversário da Constituição. Aí, na Igreja de São Francisco de Paula, o imperador sentiu pela última vez o carinho e o respeito dos brasileiros.
Entretanto, novos distúrbios ocorreriam no dia 04 de abril, aniversário da princesa Maria da Glória. Prevendo manifestações populares, D. Pedro determinara aos ministros que as proibissem, a fim de serem evitados novos conflitos. Não o fizeram e, em consequência, foram exonerados e substituídos por um novo gabinete. Este, composto de antigas figuras do Império, subservientes à vontade do monarca, foi logo apelidado de "Ministério dos Marqueses". Esse ato imperial deu início à insurreição que vinha sendo preparada. Na manhã do dia 6, espalhou-se a notícia da substituição do gabinete a 19 de março e mais de 2.000 pessoas reuniram-se no Campo de Santana, exigindo a demissão do Ministério dos Marqueses. Imediatamente, três "juízes de paz" foram, na qualidade de emissários da grande concentração popular, ao Paço de São Cristóvão pedir a reforma ministerial. D. Pedro recusou-a em termos enérgicos. Tendo em mãos um exemplar da Constituição, leu aos magistrados o artigo que lhe facultava nomear e destituir ministros livremente.
A intransigência do imperador exacerbou os ânimos dos brasileiros. A situação se tornaria mais grave com a concentração popular no Campo de Santana, para onde se dirigia também a tropa de guarnição do Rio de Janeiro, sob o comando do brigadeiro Francisco de Lima e Silva. Então, vendo-se sem apoio militar, D. Pedro I, na madrugada do dia 07 de abril de 1831, entregou ao major Miguel de Frias o ato de sua renúncia ao trono, em favor de seu filho, o príncipe D. Pedro de Alcântara.
Ainda na manhã do dia 07, deixando o futuro Pedro II sob os cuidados de José Bonifácio de Andrade e Silva, D. Pedro I embarcou no navio inglês Warspite, onde permaneceu quatro dias, passando depois para a Fragata Volage, que partiu do Rio de Janeiro a 13 de abril de 1831.
Sumário
- Guerra da Independênciai. Guerra da Independência na Bahia
ii. Guerra da Independência do Piauí
iii. Guerra da Independência da Província Cisplatina
- Reconhecimento da Independência
- D. Pedro e a Constituinte
- A Ação Legislativa da Assembleia
- A Constituição da Mandioca
- A Noite da Agonia
- A Constituição de 1824
- A Confederação do Equador
- A Crise do Primeiro Reinado e a Abdicação do Imperador
Áreas exclusivas para assinantes